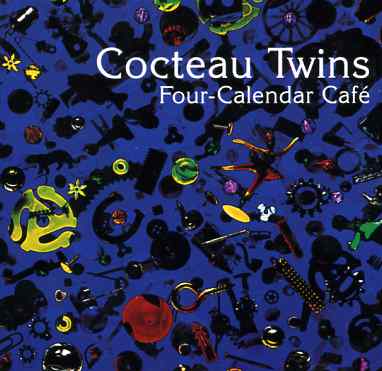sexta-feira, junho 30, 2006
A Alemanha
Joga hoje, e como a Argentina está a perder o gás, não tenho problemas em voltar a torcer pela minha equipa de meninice (Portugal nunca lá chegava e o Brasil depois de 82 é aborrecido). Lembro-me do Magath, do Allofs, do Stielike, do Breitner, do Schumacher (esse animal), do Briegel (ganda façanhudo), do Litbarski e de tantos outros, sobretudo do meu homónimo Rumennigue, o maior (o mais velho, o mais novo era vulgarote). Já não tenho a certeza é de como se escreviam os nomes…Entretanto, a Filosofia fez-me trocar a certeza parmediana pela via dos mortais bicéfalos pós-tudo e mais qualquer coisa. Continuo a gostar mais de ginástica do que de futebol, mas é quase impossível ver, mesmo nas Olimpíadas, e não tenho com quem jogar xadrês. Volto à bola hoje para ver o belo trabalho desse grande avançado e grande desportista que hoje é um grande treinador, o saudoso «Kataklinsmann». E só tenho pena por o meu onze de sonho não estar disponível.
Baliza: na tradição alemã, um espalha brasas que se prejudica (mas não à equipa) pelo feitio, Schopenhauer. Sempre controverso, nunca têm a coragem de o deixar de fora.
Lateral direita: Carl Schmitt, valor seguro, polivalente, safa-se sempre dos cartões apesar do seu historial dúbio. Está a voltar a conhecer grande popularidade entre os adeptos.
Lateral esquerda: Adorno, jogador com escola (Frankfurt), primeiro de uma geração que conheceu um grande sucesso internacional.
Centrais: a dupla histórica, Marx e Engels. Conhecidos pelo materialismo impenitente do seu jogo, Karl joga a central de marcação e Friederich a libero. O primeiro é famoso na Bundesliga pelo seu poder de marcação, sempre atento às infiltrações da super-estrutura do jogo adversário. O segundo sabe que o futebol é infra-estrutura e se faz de trás para a frente, sai sempre a jogar, com grande espírito de equipa. Eles são a origem da família (desportiva), da propriedade (do fio de jogo) e do estado (dos títulos).
Trinco: Schleiermacher, um jogador discreto dentro e fora do campo, mas muito querido pela generalidade dos seus companheiros pelo papel conciliador que tem entre as diversas tendências presentes na sempre complexa selecção, apesar de disputas antigas com alguns colegas seus.
Médio centro: Hegel, cujo processo de jogo é de dimensões absolutas (segundos os seus fans) ocupa indiscutivelmente o lugar desde que o ex-capitão Lutero arrumou as botas. Os fans deste ainda não perdoaram ao seu sucessor ter dito que o homem moderno trocara a oração matinal pela leitura do diário matutino, mas talvez por isso a Imprensa é sempre respeitosa quando se refere às suas opções de jogo, tortuosas talvez, mas muito eficazes a desbaratar adversários históricos como os ingleses.
Extremo direito: Heidegger, muito forte no um para um graças às suas fintas de corpo, este jovem talento é contudo perseguido pelas suas afirmações e opções apressadas de início de carreira. Não obstante, a capacidade de fazer toda a ala ofensivamente e ainda auxiliar na defesa um jogador com processos tão diversos dos seus (Schmitt), dá-lhe hipóteses sérias de alcançar um lugar na história do ser jogador alemão.
Extremo esquerdo: Carnap, cuja conflitualidade permanente com Heidegger prejudica as permutas de flanco. Contudo, está muito bem integrado no processo mecanizado que é o jogo alemão, caracterizando as suas prestações por uma grande concentração na análise dos adversários, agressividade na luta a meio campo e capacidade de decisão através de jogadas individuais de contra-ataque.
Avançado centro e capitão de equipa: Kant, que mantém a braçadeira apesar das ambições de Hegel e de desentendimentos latentes com o seleccionador. Famoso pela sua frieza, que lhe vale a alcunha de hat-trick desde que atingiu a fama com três tentos críticos de impacte internacional, é um alemão atípico pela sua estatura e porte físico muito frágeis, mas não muito diverso nisso de outros grandes nomes (como Gerd Muller).
Segundo ponta: Nietzsche, indisciplinado e sem dúvida o mais talentoso da equipa, o mais latino de todos. Depois de muito se ter falado de uma possível perda de titularidade para um colega menos imprevisível e mais próximo do estilo de jogo de Kant (Gentz ou mesmo Blumenberg), acabou por merecer a confiança do treinador pelo pânico que infunde aos adversários, que não conseguem evitar recorrer à falta para o deter.
Suplentes: Fichte e Spengler (keepers); Horkheimer, Benjamin, Leibniz, Habermas (defesas); Jaspers, Feyerabend, Dilthey, Hempel (médios); Gentz e Blumenberg (avançados).
Treinador: Freud, mais ninguém dava conta do lugar.
CL
Baliza: na tradição alemã, um espalha brasas que se prejudica (mas não à equipa) pelo feitio, Schopenhauer. Sempre controverso, nunca têm a coragem de o deixar de fora.
Lateral direita: Carl Schmitt, valor seguro, polivalente, safa-se sempre dos cartões apesar do seu historial dúbio. Está a voltar a conhecer grande popularidade entre os adeptos.
Lateral esquerda: Adorno, jogador com escola (Frankfurt), primeiro de uma geração que conheceu um grande sucesso internacional.
Centrais: a dupla histórica, Marx e Engels. Conhecidos pelo materialismo impenitente do seu jogo, Karl joga a central de marcação e Friederich a libero. O primeiro é famoso na Bundesliga pelo seu poder de marcação, sempre atento às infiltrações da super-estrutura do jogo adversário. O segundo sabe que o futebol é infra-estrutura e se faz de trás para a frente, sai sempre a jogar, com grande espírito de equipa. Eles são a origem da família (desportiva), da propriedade (do fio de jogo) e do estado (dos títulos).
Trinco: Schleiermacher, um jogador discreto dentro e fora do campo, mas muito querido pela generalidade dos seus companheiros pelo papel conciliador que tem entre as diversas tendências presentes na sempre complexa selecção, apesar de disputas antigas com alguns colegas seus.
Médio centro: Hegel, cujo processo de jogo é de dimensões absolutas (segundos os seus fans) ocupa indiscutivelmente o lugar desde que o ex-capitão Lutero arrumou as botas. Os fans deste ainda não perdoaram ao seu sucessor ter dito que o homem moderno trocara a oração matinal pela leitura do diário matutino, mas talvez por isso a Imprensa é sempre respeitosa quando se refere às suas opções de jogo, tortuosas talvez, mas muito eficazes a desbaratar adversários históricos como os ingleses.
Extremo direito: Heidegger, muito forte no um para um graças às suas fintas de corpo, este jovem talento é contudo perseguido pelas suas afirmações e opções apressadas de início de carreira. Não obstante, a capacidade de fazer toda a ala ofensivamente e ainda auxiliar na defesa um jogador com processos tão diversos dos seus (Schmitt), dá-lhe hipóteses sérias de alcançar um lugar na história do ser jogador alemão.
Extremo esquerdo: Carnap, cuja conflitualidade permanente com Heidegger prejudica as permutas de flanco. Contudo, está muito bem integrado no processo mecanizado que é o jogo alemão, caracterizando as suas prestações por uma grande concentração na análise dos adversários, agressividade na luta a meio campo e capacidade de decisão através de jogadas individuais de contra-ataque.
Avançado centro e capitão de equipa: Kant, que mantém a braçadeira apesar das ambições de Hegel e de desentendimentos latentes com o seleccionador. Famoso pela sua frieza, que lhe vale a alcunha de hat-trick desde que atingiu a fama com três tentos críticos de impacte internacional, é um alemão atípico pela sua estatura e porte físico muito frágeis, mas não muito diverso nisso de outros grandes nomes (como Gerd Muller).
Segundo ponta: Nietzsche, indisciplinado e sem dúvida o mais talentoso da equipa, o mais latino de todos. Depois de muito se ter falado de uma possível perda de titularidade para um colega menos imprevisível e mais próximo do estilo de jogo de Kant (Gentz ou mesmo Blumenberg), acabou por merecer a confiança do treinador pelo pânico que infunde aos adversários, que não conseguem evitar recorrer à falta para o deter.
Suplentes: Fichte e Spengler (keepers); Horkheimer, Benjamin, Leibniz, Habermas (defesas); Jaspers, Feyerabend, Dilthey, Hempel (médios); Gentz e Blumenberg (avançados).
Treinador: Freud, mais ninguém dava conta do lugar.
CL
quinta-feira, junho 29, 2006
Humanidade sem ilusão
Soube ontem da morte de Martin Adler. Há vários anos atrás traduzi e ajudei a traduzir várias reportagens dele, nos mais diversos sítios, sempre publicadas na Grande Reportagem (durante a direcção de Francisco José Viegas). Nunca o conheci pessoalmente, só mantive alguns, poucos, contactos por mail. As reportagens estavam geralmente escritas num broken English que obrigava a reescrevê-las, e lembro-me que as últimas que me passaram pelas mãos chegaram às prestações, primeiro o fim, depois o princípio, a seguir o meio, enfim, ele claramente tinha demasiado trabalho, e trabalho demasiado exigente, para poder estar com formalismos de acabamento. Nesses contactos sempre foi cheio de humor e disponibilidade, nunca se julgou carapau de corrida nem se fez de esquecido a responder - um exemplo.
Morreu na Somália, o tipo de sítio onde ele costumava estar a trabalhar. As reportagens acabavam por ser quase todas do mesmo género: AK-47's, mortes, muita gente em muito mau estado, incerteza quanto ao desfecho de tudo... Agora, não havendo dúvidas quanto ao seu fim, tenho de novo pena de não poder ler sem algumas reservas O Futuro de uma Ilusão (Freud no seu melhor iluminismo) e a convicção no necessário desvanecer da influência religiosa. No caso de Adler parece que morreu às mãos dos Tribunais Islâmicos, que ainda há pouco tempo li (numa crónica de José Cutileiro no Expresso) também condenaram um homem à morte por facada mandando o seu filho de 16 ano executá-lo - o tipo de coisas que líamos nas reportagens de Martin Adler. Mas podia ser outro tribunal monotonoteísta qualquer, sempre que têm poder para isso nunca perdem a oportunidade de mostrar os seus pacíficos intentos. É isso que significa a paz deles, paz eterna.
Nas reportagens de Martin Adler não me lembro de paz, mas lembro-me da humanidade de quem as fazia. Qualquer leitor pode comprová-lo, se ainda conseguir encontrar uma Grande Reportagem.
CL
Morreu na Somália, o tipo de sítio onde ele costumava estar a trabalhar. As reportagens acabavam por ser quase todas do mesmo género: AK-47's, mortes, muita gente em muito mau estado, incerteza quanto ao desfecho de tudo... Agora, não havendo dúvidas quanto ao seu fim, tenho de novo pena de não poder ler sem algumas reservas O Futuro de uma Ilusão (Freud no seu melhor iluminismo) e a convicção no necessário desvanecer da influência religiosa. No caso de Adler parece que morreu às mãos dos Tribunais Islâmicos, que ainda há pouco tempo li (numa crónica de José Cutileiro no Expresso) também condenaram um homem à morte por facada mandando o seu filho de 16 ano executá-lo - o tipo de coisas que líamos nas reportagens de Martin Adler. Mas podia ser outro tribunal monotonoteísta qualquer, sempre que têm poder para isso nunca perdem a oportunidade de mostrar os seus pacíficos intentos. É isso que significa a paz deles, paz eterna.
Nas reportagens de Martin Adler não me lembro de paz, mas lembro-me da humanidade de quem as fazia. Qualquer leitor pode comprová-lo, se ainda conseguir encontrar uma Grande Reportagem.
CL
quarta-feira, junho 28, 2006
Outras polémicas
Além da da crítica, cuja existência é cada vez mais virtual, há outras polémicas. A da indisciplina nas escolas, a da homossexualidade do Super-Homem, a das maternidades. Todas me dizem algo, e até se relacionam umas com as outras, mas sobre a última tenho (infelizmente) o que contar. Que sirva de serviço público, como aviso. Além das maternidades que fecham há serviços de urgência para grávidas em que se espera hora e meia sem se chegar a ser atendida, sem sequer uma explicação. Se o Ministério da Saúde quiser olhar também para situações destas, só tem de ir a São Francisco de Xavier. E bom proveito, que quem pode (felizmente foi o caso) vai ao sector privado.
CL
CL
terça-feira, junho 27, 2006
Nem Ditadura Nem Revolução
Hoje, 27 de Junho, pelas 18H00, decorrerá na Biblioteca da Assembleia da República o lançamento do livro Nem Ditadura, Nem Revolução - A Ala Liberal e o Marcelismo (1968-1974), de Tiago Fernandes, editado pela Assembleia da República em parceria com as Edições Dom Quixote. Na mesa estarão Joaquim Magalhães Mota, Jaime Gama, Pedro Tavares de Almeida e António Costa Pinto.
segunda-feira, junho 26, 2006
«A» polémica de Verão?
No Verão nunca falta a habitual polémica literária, a sinalizar a falta de notícias. A avaliar pelos esforços de Augusto M. Seabra no Público e os de alguns blogs (Corta-Fitas, Da Literatura, Fuga para a Vitória) parece que há quem imagine que a crítica se presta a tema para este ano. Já escrevi sobre a crítica o que me interessava, e o que tenho lido não me motiva emendas nem acrescentos. O que me parece é que o tema é mau (demasiado usado, desde logo), o timing é prematuro (com Portugal no Mundial...) e que o público para uma polémica tão específica já não existe (donde a falta de comentários aos posts). Por mim tudo bem, como as polémicas portuguesas costumam ser irrelevantes sempre se salvaguarda o tema.
CL
CL
sexta-feira, junho 23, 2006
Audiopátria
O Blitz voltou como revista, mas é no Público de hoje, no «Y», que se celebram devidamente 25 anos de GNR. Acho que o último disco deles que comprei foi o «Mosquito» (nada mau). Mas o melhor, agora que o tempo deles passou e não deve voltar, é poder lembrar que há 15, 20 anos atrás os GNR davam os melhores concertos que havia em Portugal. E nenhuma antologia da poesia portuguesa contemporânea está completa sem vários textos de António Variações, Sérgio Godinho e Rui Reininho. Os Mler Ife Dada também fazem falta, mas «Ana & Freud» é o que me apetecia ouvir agora.
CL
CL
quarta-feira, junho 21, 2006
JJ: Marca Registada
Stephen Joyce, neto de James Joyce, diz que a lei de direitos de autor é demasiado permissiva. Citar o avô? Só se ele deixar e os livros em causa não ferirem a reputação de JJ. Perante as ameaças de processos por parte de Stephen, Carol Shloss, professora da Universidade de Stanford e especialista em JJ (Shloss publicou em 2003 um livro sobre a filha de JJ, Lucia, e desde então para cá as intimidações têm-se multiplicado), resolveu processar Stephen Joyce. Shloss diz que é o futuro da crítica académica que está aqui em causa. Pergunta ela: «para quê ter escritores e professores se não podemos fazer o nosso trabalho?» A crítica pode não ter morrido, mas que há quem a queira matar lá isso há. E, pelos vistos, não é só em Portugal.
O autor

O seu a seu dono, na hora de fechar este album de fotos romenas eis o autor das imagens, Francisco Caramelo (procurem o blog dele). Atrás de nós, o lago Tabakaria.

Pouco secreto

Perto da Humanitas fica este edifício, outrora sede da polícia secreta romena. O suplemento novo é do actual regime.

A lei da bala

A Humanitas é uma das principais livrarias de Bucareste. Na fachada, o que se vê são buracos de balas. A história da crítica fez-se sempre destas coisas.

O Francesismo
Há semanas, na Casa Fernando Pessoa, Vasco Graça Moura, Maria Filomena Mónica, Clara Ferreira Alves, Gonçalo M. Tavares e Guilherme Valente falaram sobre os clássicos da literatura portuguesa e a importância de os ler e ensinar nos liceus. Para que é que servem os clássicos? Apenas para transmitir uma qualquer competência linguística? Ou porque aí são transmitidos alguns dos valores centrais das nossas sociedades? E que valores? Sobre isto ninguém ali se pronunciou, optaram todos pela ladainha do costume: o país analfabeto, as escolas inúteis, os professores ignorantes, os alunos uns selvagens sem remissão. Defendeu-se a política de terra queimada e chegou-se até (Maria Filomena Mónica, com um humor negro que não lhe conhecia) a defender o «fuzilamento» de todos os professores (o que motivou protestos, gritaria, saídas intempestivas dos professores ali presentes, e não eram poucos). Clara Ferreira Alves, a dada altura, referiu o caso francês como exemplar: nas escolas gaulesas os clássicos são de leitura obrigatória, lê-se, vejam só, Racine (porque rima com Graham Greene, presumo, vindo, como veio, da cabeça Ferreira Alves). Esquecida e enterrada aquela noite até ontem, lia eu a revista «L'Express» no bar Papagaio, algures numa praia algarvia. Logo no editorial, Denis Jeambar, o director, afirma: «Se o primeiro dever da República é oferecer a cada francês as duas bases indispensáveis ao exercício da cidadania - a leitura e a escrita - somos obrigados a reconhecer o fracasso.» E continua: «Situação intolerável, incompreensível mesmo, quando milhares de euros foram investidos no sistema educativo. A França consagra mais de 7% do seu PIB à formação dos seus jovens, um investimento superior à média europeia. São os programas e os métodos que estão em causa». À medida que avançava na revista, notícias várias dando conta de: 1 professor em cada 2 estima que os programas são «desadequados» para o ensino, mais não sei quantos professores agredidos nas salas de aula, agravamento da violência escolar, agressões, etc. Mas então e o Racine?, perguntava eu à minha perplexidade. Sem respostas, continuei a folhear a revista. Na página 15 esta frase: «os franceses têm por hábito denegrir a cultura francesa». Ora, ora... até nisso?
terça-feira, junho 20, 2006
A crítica não morreu, mudou de função (II)
Augusto M. Seabra escreveu no Público da semana passada um artigo em duas partes (e ainda por concluir) intitulado «”A crítica” ainda existe?». Vale a pena comentá-lo (obrigado Patrícia!), por ser tão ilustrativo de equívocos como o dos «clássicos» e contemporâneos (ver post de ontem).
Na Quinta, dia 15, Seabra parte de um «paradoxo», o da desaparição de espaços de crítica na Imprensa, sua sede histórica. Ora sucede que não se trata de um paradoxo, antes da prova do sucesso da crítica moderna. A promoção iluminista do discurso crítico foi não apenas, nem fundamentalmente, artística mas sobretudo política. E isto no sentido mais lato, social, que o termo pode ter: como queremos viver em sociedade? Primeiro sob a forma de crítica de textos e de obras de arte e, depois, abertamente político, o discurso crítico moderno foi porta-voz da «liberdade dos modernos» (Constant). E muito cedo se formou neste discurso liberal (pois a Esquerda é liberal, como é natural ao formar-se contra a autoridade e a tradição, e só pontualmente foi revolucionária, com resultados aliás problemáticos) um tópico central: o comércio como alternativa ao conflito armado. O comércio de bens, mas igualmente de gentes, ideias, etc. – esta foi a pedra de toque do cosmopolitismo que Seabra tanto gosta de invocar. O seu sucesso dependeu de uma conversão cultural que demorou séculos (e que em Portugal tardou), a de uma cultura religiosa numa cultura ateia, na qual os valores não são nem podem ser, por definição, absolutos (isso seria criar limites à liberalidade dos diferentes comércios). Esta é a história da modernidade e, fácil é ver, confunde-se com a história do Ocidente, a civilização ateia por excelência (não Cristã: a religião cristã, mesmo feita religião de Império, não se confunde com nenhuma civilização particular, sob pena de perder a sua universalidade; pena que está muitas vezes disposta a sofrer, claro, mas isso são contos largos).
A conversão de espaços de crítica em espaços de moda, tal como a conversão das notícias em peças de propaganda «disponibilizadas» por agências de informação, é assim não um paradoxo mas a marca indelével do sucesso do discurso crítico: a sociedade de constantes trocas que propunha em alternativa à servidão do súbdito ao senhor faz-se hoje sem ser preciso sequer argumentar. Talvez por isso, quando é preciso argumentar, falta a prática, mesmo quando os casos não podiam ser mais transparentes (veja-se a chantagem obscena feita em torno dos cartoons de Maomé).
Mas, partindo do seu «paradoxo», Seabra anota em Portugal alguns casos perversos desta conversão do discurso crítico em moda e publicidade e conclui: «começam a ser recorrentes os casos em que a recensão de livros de críticos de um jornal instauram, porventura até injustamente, uma dúvida que afecta a credibilidade de todos – e a credibilidade é uma noção vital à imprensa em geral, à crítica também.» Certo, nos moldes do discurso crítico. Mas errado, quando a crítica (reduzida a sucessão de modas) e a Imprensa são, como hoje, veículos de entretenimento. Ninguém que veja o Prof. Marcelo (ou o seu duplo Vitorino) espera deles isenção, elaboração conceptual, reflexão sobre modelos sociais a explorar, ligação do presente ao futuro; esperam entretenimento, e isso é o que recebem.
Relembrando o seu trabalho bulldozer (termo vazio que se aplica tanto a Seabra como a João Pedro George) no campo das artes plásticas, e declarando-se estranho aos amiguismos em nome das «cumplicidades» (um termo que conviria saber o que significa mesmo que para isso se tenha de ler Aristóteles), as questões que importam a Seabra são três: «há 1) uma marginalização informativa do espaço da cultura, 2) uma informação tantas vezes apressada e pouco trabalhada, que transmite com escasso tratamento os diversos discursos “oficiais” e 3), como corolário, uma secundarização da crítica, desde logo pouco considerada nos orçamentos, favorecendo agendamentos de diversas proximidades imediatas.». Vamos por partes.
A primeira questão reduz a crítica às artes (a «cultura»), o que é historicamente errado. Essencialmente político, o discurso crítico nem é sequer moderno (não me tenho referido a Aristóteles – ou aos Sofistas, para recorrer a outros clássicos na INCM – por acaso). Existiu na Antiguidade, na Idade Média, na Modernidade e, se quisermos diferenciar, na contemporaneidade. O que mudou foi a sua função social e, com ela, a sua visibilidade. Nunca foi tão exuberante como na Modernidade (por motivos que já elaborei em livros, e que não vou resumir aqui), hoje é preciso procurá-lo com mais cuidado, mas nunca falando apenas de dança, livros, música, etc..
A segunda questão resume muitos lugares-comuns em torno não da crítica mas do jornalismo: quem é o culpado da má informação? Os «estagiários»? (Canalhice, como se estes não tivessem editores). Os jornalistas? As «agências de informação»? Com a crescente especialização da crítica em diversos campos produziu-se também uma segregação da crítica face às notícias, isso é real e grave, mas acrescentemos que não impede as notícias de serem muito judicativas em prejuízo da informação que dão (então no Público!). É por causa de problemas como este, de fronteira entre géneros, que prefiro falar de «discurso crítico» e não de «crítica» (em Portugal, imediatamente tomada como «crítica literária» por razões puramente conjunturais ).
Como as campanhas de Soares nas últimas presidenciais e de Carrilho nas autárquicas bem demonstraram, quem se queixa da estratégia do entretenimento é quem não a sabe organizar, não quem tem ideias próprias e sabe difundi-las em função dos meios de comunicação disponíveis. Mais recentemente, uma notícia do Público em que Agostinho da Silva é dado como profeta da Internet, podia bem servir como exemplo da informação inteiramente acrítica dos mass media de hoje (no Abrupto e no Indústrias Culturais foi devidamente tratada). Mas o meu caso preferido é o da tese de mestrado de uma jornalista da RTP, que explica como o sensacionalismo televisivo em torno da ponte de Entre-os-Rios foi, afinal, ao permitir que as pessoas desabafassem, boa Psicologia… No (acriticamente) celebrado aniversário de Freud em 2006, eis o contributo nacional de excelência para a análise selvagem!
A terceira questão não foge a um problema sério, o do dinheiro. Em países com um espaço público muito tardiamente formado e ainda pouco autonomizado face ao Estado, este é um problema grave, e não só para o discurso crítico. Actualmente, a aposta desesperada de toda a comunicação social no Mundial, agravada pela omnipresença da publicidade que se associa a ele de todos os modos, é um caso claro disso. De novo, é um problema político, não estritamente «cultural». (Enfatizo esta diferença para esclarecimento dos públicos, não por oposição a Seabra, que me parece neste respeito pensar na mesma linha.)
Claro está, esta é a minha leitura, que aqui nem sequer verdadeiramente resumo. Não me surpreende o silêncio em torno do Portugal Extemporâneo, a razão para o escrever foi mesmo esse silêncio, e quem quiser tomar as três questões de Seabra como «cruciais para interrogar se “a crítica” ainda existe» que o faça.
Mas então que o faça mesmo. O que não sucede de todo na continuação do artigo, este Sábado. Uma página inteira de jornal (num suplemento, cuidado com o orçamento) em ajustes de contas entre críticos. Ou, para usar o termo que me parece correcto, entertainers. Mais uma edição de comentários sobre os comentários de outros com o costumeiro desgosto de Seabra com Pulido Valente e o Independente. Mas tirando a repetição do evidente (que a crítica é plural, que é preciso mantê-la viva fora de círculos estritamente académicos – onde também falta em Portugal, diga-se – e que há uma cultura anti-crítica em Portugal), o que se lê? Uma penosa e mesmo perniciosa (com a devida vénia) diferenciação do «sistema crítico» de Prado Coelho face ao «método George». João Pedro George não precisa que eu o defenda, nem este seria o local para isso (e nem é por causa do amiguismo», esse lugar-comum que se lhe associou e que só deturpa o que George efectivamente escreve). De facto, é «óbvio» que há diferenças: George não insulta (sobre isso já lhe gabei o humor aqui no blog, já que ninguém o refere), George lê os livros antes de os qualificar como melhores ou piores, George não esconde o que o incomoda (como Seabra nota que Prado Coelho faz, e exemplos de outras pessoas não faltam), George não tem o incrível curriculum de polémicas acríticas de Prado Coelho. Este último ponto é o crucial: desde há quatro décadas que Prado Coelho produz aqueles elogios involuntários como o que deu a George (se soubessem a quantidade de mails na caixa do Esplanar a dizer isto mesmo…). É preciso não ter noção nenhuma do que é a crítica em Portugal no século XX (ou fingir não ter) para falar de casos como o que Seabra invoca como sendo recentes.
A conclusão? O discurso crítico numa sociedade já liberalizada e regida pelo comércio não é o mesmo nem tem a mesma função que lhe era próprio enquanto lutava por essa liberalização. Retomando em nova forma algo que vem do seu passado moderno, hoje o discurso crítico consiste em analisar as modas que lhe tomaram a função de mediação social e transformaram em outra coisa. Daí mesmo lhe faltar orçamento (pois se incomoda o negócio…) e daí também a irritação com que é recebido. Não é de estranhar que nem George, nem eu, nem João Tiago Proença, para não me alongar no elenco, não escrevamos regularmente na Imprensa. Esta pertence aos ‘críticos’ que só notam na moda que lhes convém, como devem fazer os bons entertainers.
Aqui haveria a considerar, como Seabra refere mas não chega a fazer, o problema do(s) público(s), a meu ver excessivamente complexo para se discutir mesmo numa série de artigos (em resumo: o público é hoje definido pelos mass media e não pelos media, pela imagem e não pela palavra; ora a crítica exerce-se pela palavra).
The show must go on? Sem dúvida, e crítica dele não faltará. Aqui no Esplanar, onde me estreei graças a um carta que o director do Público não publicou (por eu corrigir informações falsas num editorial seu?). Por vezes até em jornais, como Augusto M. Seabra, em várias outras ocasiões, bem exemplifica. Quanto à conclusão do artigo de Seabra, com a continuação que teve parece comprometida; mas não percamos a esperança – dizer bem é a mais nobre parte do discurso crítico, e por isso a mais exigente.
CL
Na Quinta, dia 15, Seabra parte de um «paradoxo», o da desaparição de espaços de crítica na Imprensa, sua sede histórica. Ora sucede que não se trata de um paradoxo, antes da prova do sucesso da crítica moderna. A promoção iluminista do discurso crítico foi não apenas, nem fundamentalmente, artística mas sobretudo política. E isto no sentido mais lato, social, que o termo pode ter: como queremos viver em sociedade? Primeiro sob a forma de crítica de textos e de obras de arte e, depois, abertamente político, o discurso crítico moderno foi porta-voz da «liberdade dos modernos» (Constant). E muito cedo se formou neste discurso liberal (pois a Esquerda é liberal, como é natural ao formar-se contra a autoridade e a tradição, e só pontualmente foi revolucionária, com resultados aliás problemáticos) um tópico central: o comércio como alternativa ao conflito armado. O comércio de bens, mas igualmente de gentes, ideias, etc. – esta foi a pedra de toque do cosmopolitismo que Seabra tanto gosta de invocar. O seu sucesso dependeu de uma conversão cultural que demorou séculos (e que em Portugal tardou), a de uma cultura religiosa numa cultura ateia, na qual os valores não são nem podem ser, por definição, absolutos (isso seria criar limites à liberalidade dos diferentes comércios). Esta é a história da modernidade e, fácil é ver, confunde-se com a história do Ocidente, a civilização ateia por excelência (não Cristã: a religião cristã, mesmo feita religião de Império, não se confunde com nenhuma civilização particular, sob pena de perder a sua universalidade; pena que está muitas vezes disposta a sofrer, claro, mas isso são contos largos).
A conversão de espaços de crítica em espaços de moda, tal como a conversão das notícias em peças de propaganda «disponibilizadas» por agências de informação, é assim não um paradoxo mas a marca indelével do sucesso do discurso crítico: a sociedade de constantes trocas que propunha em alternativa à servidão do súbdito ao senhor faz-se hoje sem ser preciso sequer argumentar. Talvez por isso, quando é preciso argumentar, falta a prática, mesmo quando os casos não podiam ser mais transparentes (veja-se a chantagem obscena feita em torno dos cartoons de Maomé).
Mas, partindo do seu «paradoxo», Seabra anota em Portugal alguns casos perversos desta conversão do discurso crítico em moda e publicidade e conclui: «começam a ser recorrentes os casos em que a recensão de livros de críticos de um jornal instauram, porventura até injustamente, uma dúvida que afecta a credibilidade de todos – e a credibilidade é uma noção vital à imprensa em geral, à crítica também.» Certo, nos moldes do discurso crítico. Mas errado, quando a crítica (reduzida a sucessão de modas) e a Imprensa são, como hoje, veículos de entretenimento. Ninguém que veja o Prof. Marcelo (ou o seu duplo Vitorino) espera deles isenção, elaboração conceptual, reflexão sobre modelos sociais a explorar, ligação do presente ao futuro; esperam entretenimento, e isso é o que recebem.
Relembrando o seu trabalho bulldozer (termo vazio que se aplica tanto a Seabra como a João Pedro George) no campo das artes plásticas, e declarando-se estranho aos amiguismos em nome das «cumplicidades» (um termo que conviria saber o que significa mesmo que para isso se tenha de ler Aristóteles), as questões que importam a Seabra são três: «há 1) uma marginalização informativa do espaço da cultura, 2) uma informação tantas vezes apressada e pouco trabalhada, que transmite com escasso tratamento os diversos discursos “oficiais” e 3), como corolário, uma secundarização da crítica, desde logo pouco considerada nos orçamentos, favorecendo agendamentos de diversas proximidades imediatas.». Vamos por partes.
A primeira questão reduz a crítica às artes (a «cultura»), o que é historicamente errado. Essencialmente político, o discurso crítico nem é sequer moderno (não me tenho referido a Aristóteles – ou aos Sofistas, para recorrer a outros clássicos na INCM – por acaso). Existiu na Antiguidade, na Idade Média, na Modernidade e, se quisermos diferenciar, na contemporaneidade. O que mudou foi a sua função social e, com ela, a sua visibilidade. Nunca foi tão exuberante como na Modernidade (por motivos que já elaborei em livros, e que não vou resumir aqui), hoje é preciso procurá-lo com mais cuidado, mas nunca falando apenas de dança, livros, música, etc..
A segunda questão resume muitos lugares-comuns em torno não da crítica mas do jornalismo: quem é o culpado da má informação? Os «estagiários»? (Canalhice, como se estes não tivessem editores). Os jornalistas? As «agências de informação»? Com a crescente especialização da crítica em diversos campos produziu-se também uma segregação da crítica face às notícias, isso é real e grave, mas acrescentemos que não impede as notícias de serem muito judicativas em prejuízo da informação que dão (então no Público!). É por causa de problemas como este, de fronteira entre géneros, que prefiro falar de «discurso crítico» e não de «crítica» (em Portugal, imediatamente tomada como «crítica literária» por razões puramente conjunturais ).
Como as campanhas de Soares nas últimas presidenciais e de Carrilho nas autárquicas bem demonstraram, quem se queixa da estratégia do entretenimento é quem não a sabe organizar, não quem tem ideias próprias e sabe difundi-las em função dos meios de comunicação disponíveis. Mais recentemente, uma notícia do Público em que Agostinho da Silva é dado como profeta da Internet, podia bem servir como exemplo da informação inteiramente acrítica dos mass media de hoje (no Abrupto e no Indústrias Culturais foi devidamente tratada). Mas o meu caso preferido é o da tese de mestrado de uma jornalista da RTP, que explica como o sensacionalismo televisivo em torno da ponte de Entre-os-Rios foi, afinal, ao permitir que as pessoas desabafassem, boa Psicologia… No (acriticamente) celebrado aniversário de Freud em 2006, eis o contributo nacional de excelência para a análise selvagem!
A terceira questão não foge a um problema sério, o do dinheiro. Em países com um espaço público muito tardiamente formado e ainda pouco autonomizado face ao Estado, este é um problema grave, e não só para o discurso crítico. Actualmente, a aposta desesperada de toda a comunicação social no Mundial, agravada pela omnipresença da publicidade que se associa a ele de todos os modos, é um caso claro disso. De novo, é um problema político, não estritamente «cultural». (Enfatizo esta diferença para esclarecimento dos públicos, não por oposição a Seabra, que me parece neste respeito pensar na mesma linha.)
Claro está, esta é a minha leitura, que aqui nem sequer verdadeiramente resumo. Não me surpreende o silêncio em torno do Portugal Extemporâneo, a razão para o escrever foi mesmo esse silêncio, e quem quiser tomar as três questões de Seabra como «cruciais para interrogar se “a crítica” ainda existe» que o faça.
Mas então que o faça mesmo. O que não sucede de todo na continuação do artigo, este Sábado. Uma página inteira de jornal (num suplemento, cuidado com o orçamento) em ajustes de contas entre críticos. Ou, para usar o termo que me parece correcto, entertainers. Mais uma edição de comentários sobre os comentários de outros com o costumeiro desgosto de Seabra com Pulido Valente e o Independente. Mas tirando a repetição do evidente (que a crítica é plural, que é preciso mantê-la viva fora de círculos estritamente académicos – onde também falta em Portugal, diga-se – e que há uma cultura anti-crítica em Portugal), o que se lê? Uma penosa e mesmo perniciosa (com a devida vénia) diferenciação do «sistema crítico» de Prado Coelho face ao «método George». João Pedro George não precisa que eu o defenda, nem este seria o local para isso (e nem é por causa do amiguismo», esse lugar-comum que se lhe associou e que só deturpa o que George efectivamente escreve). De facto, é «óbvio» que há diferenças: George não insulta (sobre isso já lhe gabei o humor aqui no blog, já que ninguém o refere), George lê os livros antes de os qualificar como melhores ou piores, George não esconde o que o incomoda (como Seabra nota que Prado Coelho faz, e exemplos de outras pessoas não faltam), George não tem o incrível curriculum de polémicas acríticas de Prado Coelho. Este último ponto é o crucial: desde há quatro décadas que Prado Coelho produz aqueles elogios involuntários como o que deu a George (se soubessem a quantidade de mails na caixa do Esplanar a dizer isto mesmo…). É preciso não ter noção nenhuma do que é a crítica em Portugal no século XX (ou fingir não ter) para falar de casos como o que Seabra invoca como sendo recentes.
A conclusão? O discurso crítico numa sociedade já liberalizada e regida pelo comércio não é o mesmo nem tem a mesma função que lhe era próprio enquanto lutava por essa liberalização. Retomando em nova forma algo que vem do seu passado moderno, hoje o discurso crítico consiste em analisar as modas que lhe tomaram a função de mediação social e transformaram em outra coisa. Daí mesmo lhe faltar orçamento (pois se incomoda o negócio…) e daí também a irritação com que é recebido. Não é de estranhar que nem George, nem eu, nem João Tiago Proença, para não me alongar no elenco, não escrevamos regularmente na Imprensa. Esta pertence aos ‘críticos’ que só notam na moda que lhes convém, como devem fazer os bons entertainers.
Aqui haveria a considerar, como Seabra refere mas não chega a fazer, o problema do(s) público(s), a meu ver excessivamente complexo para se discutir mesmo numa série de artigos (em resumo: o público é hoje definido pelos mass media e não pelos media, pela imagem e não pela palavra; ora a crítica exerce-se pela palavra).
The show must go on? Sem dúvida, e crítica dele não faltará. Aqui no Esplanar, onde me estreei graças a um carta que o director do Público não publicou (por eu corrigir informações falsas num editorial seu?). Por vezes até em jornais, como Augusto M. Seabra, em várias outras ocasiões, bem exemplifica. Quanto à conclusão do artigo de Seabra, com a continuação que teve parece comprometida; mas não percamos a esperança – dizer bem é a mais nobre parte do discurso crítico, e por isso a mais exigente.
CL
segunda-feira, junho 19, 2006
A crítica não morreu, mudou de função (I)

O fotografado, ao lado, é Ovídio, que foi desterrado para Constança e aí morreu. Hoje, é um dos clássicos que estão na moda em Portugal (nos suplementos literários). «Moda», não «favor da crítica». Por definição, um clássico já passou o crivo da crítica. E, para o que aqui importa, o que nos últimos dois anos, sensivelmente, se tem verificado em Portugal é a moda de edições de clássicos. A moda é estranha à crítica pelo menos por prescindir de argumentação conceptual, o que no caso dos clássicos é tanto mais infeliz quanto eles a exigem, caso contrário tornam-se ininteligíveis. E, assim, não espantou ver Pacheco Pereira a falar da Ilíada e da Odisseia como «boa Imprensa» para a guerra (do Iraque)… A moda, no caso dos clássicos da Literatura, é agenciada por Cotovia, Relógio d’Água, Assírio&Alvim e poucos mais. Edições boas, sobretudo no aspecto, bem disponibilizadas aos jornalistas, sem complicações de aparatos críticos (claro!) e com publicitação explícita e encapotada em barda. Entretanto, casas como a Imprensa Nacional ou a Gulbenkian (e mesmo a Vega, quando editou a Política de Aristóteles) publicam com regularidade edições de clássicos muito mais rigorosas e completas, suprindo buracos negros da nossa cultura (as Obras Completas de Aristóteles não são apenas de interesse filosófico ou, sequer, científico) e são ignoradas. Não trabalham para criar e explorar a moda, trabalham (demasiado discretamente, pelo menos para jornalistas preguiçosos que vivem das modas) em função de um ideia de cultura que podemos classificar de clássica ou de moderna (nenhum paradoxo nisto) mas em caso algum de moda.
Para dar um exemplo menos distante: há um par de anos foi publicada uma edição luxuosa de A Poesia da ‘Presença’, antologia de Adolfo Casais Monteiro. Quem quiser que compare a recepção que teve com a que tem a edição das Obras Completas de Casais pela Imprensa Nacional. E quem souber que veja como as coisas que se escreveram a respeito da antologia e de Casais exibem bem a ignorância de quem as escreve – natural, não havendo quem leia as obras completas. A menos que a minha proximidade da edição da INCM me torne suspeito (mas de quê? De saber ler?), só não vê quem não quer que é de moda e não de crítica que se trata aqui, tal como no caso dos clássicos, tal como em quase tudo.
O assunto não me é estranho nem indiferente, quanto mais não seja por eu ter sido o autor do único estudo sintético que conheço sobre a crítica, «discurso crítico», moderno e sua existência em Portugal (Portugal Extemporâneo, 2 vols., INCM, 2005). Como já previa, na Introdução ao volume 2, o tema não era estudado por ser conveniente não o fazer. Preferível, como escrevo também nesse volume (cpt. 21), é o registo «Inês é morta!», fatal e vácuo mesmo quando praticado por quem tem mais estudos, como Eduardo Lourenço. Ou, agora, por Augusto M. Seabra.
Amanhã volto ao tema.
CL

domingo, junho 18, 2006
Corrupção
O título do DN de hoje, que só vi na edição da net, é brilhante. Parece que nos países onde há mais corrupção há também mais alunos a copiar. E ainda escrevia Medeiros Ferreira num DN recente que lhe parecia existir um grande fosso entre gerações em Portugal... A mim, o que me interessa no título é apresentar a questão como se fossem dois problemas em relação em vez de um só problema. Copiar não é corrupção? De certo modo também sobre isto, amanhã, haverá aqui notas a respeito da suposta morte da crítica.
CL
CL
sábado, junho 17, 2006
Entre Portugal e o Irão
sexta-feira, junho 16, 2006
Navegar
Pesca
Praia
quarta-feira, junho 14, 2006
E agora, introdução a prémios valiosos
Para quem não conhece, o melhor é mesmo visitar o site. Os Ig-nobeis estão quase aí.
«2006-06-02 What's New in the Magazine The Mar/Apr issue (vol. 12, no. 3) of the Annals of Improbable Research is the annual special FISH & CHIPS issue (and also contains a special section about Holy Grail research). The table of contents is online at: http://improbable.com/airchives/paperair/volume12/v12i3/v12i3.html Four of the articles also appear online: "Improbable Medical Review," compiled by Bertha Vanatian. "Hairball Trio," by Noel Raizman. "Fish, Fish, Fish," by Alice Shirrell Kaswell. "In Search of Astronomy's Holy Grail," by Steve Nadis. To subscribe (6 paper issues per year) go to http://improbable.com/subscribe ».
CL
«2006-06-02 What's New in the Magazine The Mar/Apr issue (vol. 12, no. 3) of the Annals of Improbable Research is the annual special FISH & CHIPS issue (and also contains a special section about Holy Grail research). The table of contents is online at: http://improbable.com/airchives/paperair/volume12/v12i3/v12i3.html Four of the articles also appear online: "Improbable Medical Review," compiled by Bertha Vanatian. "Hairball Trio," by Noel Raizman. "Fish, Fish, Fish," by Alice Shirrell Kaswell. "In Search of Astronomy's Holy Grail," by Steve Nadis. To subscribe (6 paper issues per year) go to http://improbable.com/subscribe ».
CL
terça-feira, junho 13, 2006
A Europa, sem a Diana
 Para quem pensa que Portugal é mais «Europa» que os países do antigo Bloco de Leste deve ser estranho a facilidade com que nos «ultrapassam», mas o certo é que não é. As bandeiras são só folclore, mas o trabalho não. Aqui, a entrada do Museu do Mosaico (Constanta, Roménia).
Para quem pensa que Portugal é mais «Europa» que os países do antigo Bloco de Leste deve ser estranho a facilidade com que nos «ultrapassam», mas o certo é que não é. As bandeiras são só folclore, mas o trabalho não. Aqui, a entrada do Museu do Mosaico (Constanta, Roménia).Esta Europa tem todos os defeitos de Portugal, mas tem também alguns méritos que faltam ao «torrão». No Abrupto, Pacheco Pereira tem-se queixado da bola, mas a cultura da bola é no fundo a mesma que cria os arrastões e anti-arrastões que põem o cão a rosnar, é a cultura (como ele escrevia há dias) «da Diana»: retórica preconceituosa e facilitista, inútil a não ser para criar «classe política» (e pseudo-jornalística) da estirpe de uma Ana Drago. O trabalho e a responsabilização (pessoal e institucional) só atrapalham. Mas a Europa não é apenas uma bandeirinha.
CL

segunda-feira, junho 12, 2006
Da Roménia a Bolonha
 Em Portugal, Bolonha e a reforma do ensino superior ainda é coisa muito complicada, mas na Roménia, ainda por entrar na UE, onde as universidade públicas (as melhores, como em Portugal) ainda usam ardósia, giz e esponjas, o novo modelo já está em plena aplicação. Depois há quem simule espantar-se com a quantidade de países a «ultrapassar Portugal»...
Em Portugal, Bolonha e a reforma do ensino superior ainda é coisa muito complicada, mas na Roménia, ainda por entrar na UE, onde as universidade públicas (as melhores, como em Portugal) ainda usam ardósia, giz e esponjas, o novo modelo já está em plena aplicação. Depois há quem simule espantar-se com a quantidade de países a «ultrapassar Portugal»... 
Chico Buarque
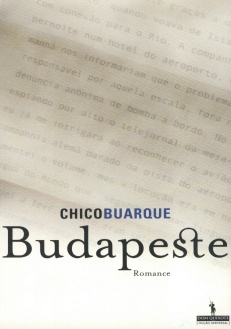
Não há ninguém mais invejoso do que eu. Sei que estas coisas não se podem dizer em voz alta, consigo até ouvir o ribombar dos trovões no céu por tão descarada violação do décimo mandamento: «não cobiçarás as coisas alheias». Deus me perdoe!, mas é isso mesmo. Então quando toca a Chico Buarque, eu fico comido de inveja. À noite tenho pesadelos com vociferações, em que bracejo, perneio, empurro, gesticulo à toa. Chico Buarque, acredito firmemente, é das pessoas que mais favores deve à natureza. Não lhe chegava ser bonitão (o que já não é pouco) e um músico refinadíssimo, quase sempre em maré alta de inspiração. Não, como se isso não fosse suficiente, Chico Buarque tinha também de ser escritor e que escritor! Chico Buarque deve ser daqueles que quer sempre ter razão. Eu! Eu! Eu! Por raiva, por pirraça, por pura embirração, já li Budapeste duas vezes. Como um criminoso, sublinhei-o, dobrei-o, olhei para ele de ângulos diferentes, tratei-o malissimamente, atirei-o contra a parede, persegui sem descanso cada frase, cada palavra, cada vírgula. Espremi-o até à última gota, dissequei-o linha por linha, li-o em circunstâncias desfavoráveis, em hora de feroz mau humor, amargurado, cansado, cheio de sono, aborrecido, no leito da depressão, com as orelhas murchas... pois quê! Budapeste é um livro que dá prazer ler. Desde que saiu (no Brasil em 2003, em Portugal no início de 2004, na D. Quixote) que ando para escrever sobre ele. A entrevista do Carlos Vaz Marques ao Chico Buarque na última Visão (que presumo a mesma da TSF, não ouvi, escapou-me) fez-me decidir a não adiar ainda estas pequenas notas da leitura de Budapeste.
Budapeste é a história de José Costa, um ghost writer, o chamado «negro», aquele que escreve na sombra textos assinados por outros: monografias, dissertações, provas de medicina, petições de advogados, cartas de amor, cartas de desespero, cartas de chantagem, ameaças de suicício, discursos de políticos, autobiografias, etecetera, etecetera. Trabalha na Cunha & Costa Agência Cultural, com vista para a praia de Copacabana, e tem duas paixões incorrigíveis: palavras e mulheres. No primeiro capítulo, Costa explica-nos como foi parar a Budapeste e o fascínio pelas línguas: «Tenho esse ouvido infantil que pega e larga as línguas com facilidade». E dá um exemplo: «campainha em turco é zil. (...) fiquei com zil na cabeça, é uma boa palavra, zil, muito melhor que campainha. Eu logo a esqueceria, como esquecera os haicais decorados no Japão, os provérbios árabes, o Otchi Tchiornie que cantava em russo, de cada país eu levo assim uma graça, um suvenir portátil.» Depois vamos percebendo que José Costa deixou o Brasil e se instalou em Budapeste, como Zsoze Kósta.
Como esquecer o passado e nascer de novo? Simples, esquecendo o idioma materno e vivendo num país com uma língua completamente diferente. Por casualidade, conhece a Hungria e apaixona-se (numa entrevista quando o livro foi publicado, Chico Buarque disse que escolheu o húngaro por causa da selecção nacional de futebol de 1954, aquela em que jogou Puskas; depois, com 17 anos, teve uma namorada húngara que lhe ensinou a pronunciar as palavras que dizem os namorados). Costa é assim um ser duplicado, dividido entre mulheres (além de Kriska e de Vanda, «moças entravam e saíam da minha vida») e entre idiomas: «para algum imigrante, o sotaque pode ser uma desforra, um modo de maltratar a língua que o constrange. Da língua que não estima, ele mastigará as palavras bastantes ao seu ofício e ao dia-a-dia, sempre as mesmas palavras, nem uma a mais. E mesmo essas, haverá de esquecer no fim da vida, para voltar ao vocabulário da infância. Assim como se esquece o nome de pessoas próximas, quando a memória começa a perder água, como uma piscina se esvazia aos poucos, como se esquece o dia de ontem e se retêm as lembranças mais profundas. Mas para quem adotou uma nova língua, como a uma mãe que se seleccionasse, para quem procurou e amou todas as suas palavras, a persistência de um sotaque era um castigo injusto». Há muito de Borges neste livro, nos jogos da escrita e da imitação, como nas cenas do jovem «negro» que o substitui na agência e começa a forjar a sua caligrafia: «a história por ele imaginada, de tão semelhante à minha, às vezes me parecia mais autêntica do que se eu próprio a tivesse escrito». Ou: «eu lia o livro ao mesmo tempo que o livro acontecia».
A linguagem viva e pitoresca, a flexibilidade e a leveza narrativa. Mas também o uso desenferrujante da língua. Os Portugueses têm tendência para menosprezar os Brasileiros com o argumento de que eles não têm respeito pela língua e que acanalham o vocabulário. A mim, se há coisa que me agrada na literatura brasileira é precisamente essa mistura entre uma enorme liberdade no tratamento da língua e o recurso a palavras que em Portugal já caíram em desuso. No primeiro caso, a utilização de barbarismos ou estrangeirismos, em particular anglicismos e galicismos, como «reprise», «maître», «blefando» ou «zapear». No segundo, palavras que em Portugal estão obsoletas mas que vêm referenciadas, por exemplo, no Cândido de Figueiredo desde pelo menos o século XIX, como «assecla» (adepto, correligionário ou sequaz), «cangote» (dominar, humilhar ou submeter), «encafifado» (envergonhado, acanhado, introvertido, tímido), «escafeder-se» (fugir apressadamente, safar-se) ou «muxoxo» (beijo, carícia ou qualquer manifestação de ternura).
Budapeste tem trechos de memorável, extraordinária literatura, em particular na descrição das mulheres e nas cenas de erotismo. Leia-se este fragmento, retirado do terceiro capítulo: «Kriska se despiu inesperadamente, e eu nunca tinha visto corpo tão branco em minha vida. (...) ela tirou pela cabeça o vestido tipo maria-mijona, não tinha nada por baixo, e fiquei desnorteado com tamanha brancura. Por um segundo imaginei que ela não fosse uma mulher para se tocar aqui ou ali, mas que me desafiasse a tocar de uma só vez a pele inteira. Até receei que naquele segundo ela dissesse: me possui, me faz o amor, me come, me fode, me estraçalha, como será que as húngaras dizem essas coisas? Mas ela ficou quieta, o olhar perdido, não sei se comovida pelo meu olhar passeando no seu corpo, ou pelo meu falar pausado no idioma dela, branca, bela, bela, branca, bela, branca. E eu também me comovia, sabendo que em breve conheceria suas intimidades e, com igual ou maior volúpia, o nome delas» (p. 42).
Chico Buarque vê-se que tem gosto em juntar palavras e em «ver os esqueletos da língua», em partir as palavras «ao meio como fruta que eu pudesse espiar por dentro». A contracapa da edição portuguesa reproduz um texto de José Saramago que termina assim: «Não creio enganar-me dizendo que algo novo aconteceu no Brasil com este livro». Eu não conheço bem a actual literatura brasileira para poder dizer o mesmo, mas que apetece concordar com Saramago lá isso apetece.
domingo, junho 11, 2006
As entradas no esplanar via Google
Mulheres peitudas com 18 anos
Mulheres felpudas
Losing my religion católica
porque toda vez que estou perto de ter um orgasmo minhas pernas começam a tremer?
estudantes malucas por sexo
homem mente no cu do cavalo
eles amam-se
tacticas de beijo na boca
método jean qui ri
Exmº senhor director
heloisa namorada de frota
coisas sensuais que excita uma mulher
história de vieira do minho
monica delirium nua
desenhos de plantas de igrejas
ferro a mais no sangue
resumo sobre a obra: crítica da razão pura
posição sexual que os homens gostam
merche romero plastica
vida de macaulay culkin
tectos falsos algarve
como é bom estar contigo poemas
caricaturas de loiras
opinião de mulher sobre cuecas masculinas
botas eusébio
foda de arromba
meus pais vão fazer bodas de ouro o que vestir
cenas de sexo
ana afonso nua
como se diz pedro em hieroglifos
posters de loiras sensuais
fatos de mergulho para vender nos Açores
ai o caralho
a educação dos homens
cenas de sexo nas noites
merche romero
marisa cruz
como esquecer uma mulher
fotos de raparigas
instrumento para foder
posições de foda
namorado de sandra coias
brad pitt vestido de frango
cabelo curto 2006
qual é o fã clube da merche romero?
óculos joão rolo
relogio jessica rabbit
poemas de elogio para uma colega
Mulheres felpudas
Losing my religion católica
porque toda vez que estou perto de ter um orgasmo minhas pernas começam a tremer?
estudantes malucas por sexo
homem mente no cu do cavalo
eles amam-se
tacticas de beijo na boca
método jean qui ri
Exmº senhor director
heloisa namorada de frota
coisas sensuais que excita uma mulher
história de vieira do minho
monica delirium nua
desenhos de plantas de igrejas
ferro a mais no sangue
resumo sobre a obra: crítica da razão pura
posição sexual que os homens gostam
merche romero plastica
vida de macaulay culkin
tectos falsos algarve
como é bom estar contigo poemas
caricaturas de loiras
opinião de mulher sobre cuecas masculinas
botas eusébio
foda de arromba
meus pais vão fazer bodas de ouro o que vestir
cenas de sexo
ana afonso nua
como se diz pedro em hieroglifos
posters de loiras sensuais
fatos de mergulho para vender nos Açores
ai o caralho
a educação dos homens
cenas de sexo nas noites
merche romero
marisa cruz
como esquecer uma mulher
fotos de raparigas
instrumento para foder
posições de foda
namorado de sandra coias
brad pitt vestido de frango
cabelo curto 2006
qual é o fã clube da merche romero?
óculos joão rolo
relogio jessica rabbit
poemas de elogio para uma colega
Insónia
São 4 da manhã e na RTP está a começar «Non ou a Vã Glória de Mandar», de Manoel de Oliveira. Às 6h e 25m vai dar o Boletim das Pescas.
sexta-feira, junho 09, 2006
É hoje, é hoje
Parece que já ninguém sente a falta do Quaresma e do Moutinho, já para nem falar do Baía. E, visto nas TV's internacionais, Portugal é apenas um entre tantos. Mas não importa, onde quer que estejamos neste planeta o Mundial começa hoje - e já enjoa mesmo quem gosta de bola. A adição do público feminino não aconteceu só em Portugal, e o resultado é detestável. Agravou o pior facciosismo dos homens e acrescentou-lhe as pornografias ligeiras de passagem de modelos e videos sexuais semi-autorizados. Pobre Maradona, viveu antes do seu tempo. Mas talvez por isso nos lembremos melhor do futebol dele do que daquele que se joga hoje.
CL
CL
quinta-feira, junho 08, 2006
À distância
É hoje apresentado (18.30h, Salão Nobre do Teatro Nacional D. Maria II) 1755 - O Grande Terramoto, de Filomena Oliveira e Miguel Real, peça de teatro já encenada e agora publicada pela Europress (e para quando o volume da Europress sobre polémicas literárias?...).
A apresentação cabe a António Braz Teixeira, que dispensa apresentações, e não estando eu lá, aqui ficam os merecidos parabéns.
CL
A apresentação cabe a António Braz Teixeira, que dispensa apresentações, e não estando eu lá, aqui ficam os merecidos parabéns.
CL
quarta-feira, junho 07, 2006
Nova Polémica?
Este mês é sobre música e derivados jornalísticos? Do mal o menos, com os pés no sofá sempre se descontrai. A capacidade de indignação do João Pedro surpreende-me, aquilo que o incomoda(bem como o EPC, as notícias de agências, etc.) é o que há mais na imprensa dita de referência.
Mas se não falta quem lhe leve a mal a indignação, é pena que não se lhe aprecie o humor. A capacidade de rir de tantas destas coisas, como se pode ver nos textos do blog que passaram para o livro (o «outro» livro), é revigorante. Quem me dera tê-la! Então agora que o historiador oficial do Público é o investigador Rui Ramos e a história de Portugal é refeita a (des)propósito de Delgado, do 28 de Maio e de sei lá mais o quê...
Visto da Roménia, Portugal fica ainda mais curioso. Em breve, imagens e comentários.
CL
Mas se não falta quem lhe leve a mal a indignação, é pena que não se lhe aprecie o humor. A capacidade de rir de tantas destas coisas, como se pode ver nos textos do blog que passaram para o livro (o «outro» livro), é revigorante. Quem me dera tê-la! Então agora que o historiador oficial do Público é o investigador Rui Ramos e a história de Portugal é refeita a (des)propósito de Delgado, do 28 de Maio e de sei lá mais o quê...
Visto da Roménia, Portugal fica ainda mais curioso. Em breve, imagens e comentários.
CL
Com os pés estendidos no sofá
Dar o braço a torcer
O João Pedro Henriques tem toda razão. Para evitar o eco do carrilhão (arrenego-te!), aquela última frase devia ter sido formulada de outra maneira. Por exemplo: Nuno Galopim é hoje a nódoa de certo jornalismo cultural.
João Pedro
João Pedro
Ainda o DN
Vale a pena espreitar este post do Jorge P. Pires , autor de um livro sobre os Madredeus, Um Futuro Maior.
terça-feira, junho 06, 2006
O rosto do mau jornalismo cultural
Digam o que disserem, as recensões nos jornais continuam a potenciar as vendas dos livros. E assim, pelas leis da lógica, quando Nuno Galopim promove o seu livro no Diário de Notícias o que ele está a fazer é aumentar as probabilidades de se venderem mais exemplares de Retrovisor - Biografia Musical de Sérgio Godinho. Logo, mais bagaço pelos direitos de autor. O Eduardo Pitta chamou-lhe nepotismo. Há quem lhe chame corrupção. Eu prefiro chamar-lhe, apesar de tudo, falta de profissionalismo. Nuno Galopim é hoje o rosto da falta de vergonha de certo jornalismo cultural.
João Pedro
João Pedro
segunda-feira, junho 05, 2006
Promessa Não Cumprida
Tinha prometido não voltar ao assunto. Mas esta não se pode calar. Há coisas que cumpre dizer. Quando meses atrás levantei a lebre dos jornalistas (do Diário de Notícias) a escreverem sobre os livros de uns e de outros e no jornal onde uns e outros trabalham, muita gente cerrou fileiras. Porque exagerava, porque as coisas não eram bem assim. Hoje, manuseava eu o suplemento de sexta-feira do Diário de Notícias, deparo-me com duas páginas (22-23) assinadas por João Céu e Silva sobre Retrovisor - Biografia Musical de Sérgio Godinho. O autor do livro? Nuno Galopim. Sabem quem é? Nada mais nada menos que o editor máximo do suplemento, aquele sobre quem recai a responsabilidade de escolher as obras e os autores que merecem atenção, divulgação e avaliação crítica. Talvez não me tenha explicado bem. É melhor dizê-lo duas vezes, para terem a certeza: Nuno Galopim, o director do 6ª, considera normal e decente que os jornalistas que estão sob as suas orientações lhe promovam os livros. Mais. Depois de deliberar favoravelmente a publicação desse amável texto sobre o seu próprio livro, Galopim, no auge da sua modéstia, decide também publicar no «seu suplemento» um excerto do segundo capítulo do livro (o seu, claro). Se queriam uma demonstração matemática da promiscuidade, da falta de profissionalismo e da esperteza lorpa, ela aí está. E que dizer do benemérito João Céu e Silva, de braço dado com o seu editor? Que se prestou, lamento, ao triste papel de grumete de luvas brancas.
Continuo a folhear o suplemento e logo na página seguinte, a 24, um texto assinado pelo próprio Nuno Galopim, zurzindo inapelavelmente em duas obras sobre António Variações: Muda de Vida, antologia da obra escrita de Variações; e Entre Braga e Nova Iorque, de Manuela Gonzaga. Trata-se, para Galopim, de «duas oportunidades perdidas, uma (a biografia) enfermando de evidente falta de bom trabalho de edição e com liberdades estilísticas de gosto duvidoso, a outra pouco povoada de "extras" capazes de contextualizar aquela escrita no seu tempo». Dito de outro modo, o livro de Manuela Gonzaga «acaba medíocre», a antologia «denuncia uma falta de conhecimento do objecto em mãos». Ou seja, primeiro temos um Galopim genial escritor de biografias de músicos, promovendo-se à custa do jornal onde trabalha, depois um Galopim juiz implacável. Que moral é que tem Galopim para julgar os outros quando ele próprio se revela incapaz de ser juiz de si próprio?
Se tudo isto não é a suprema expressão de que o bacilo oportunista não é uma aberração ocasional, antes está sempre a acontecer, vou ali e já venho.
João Pedro
Continuo a folhear o suplemento e logo na página seguinte, a 24, um texto assinado pelo próprio Nuno Galopim, zurzindo inapelavelmente em duas obras sobre António Variações: Muda de Vida, antologia da obra escrita de Variações; e Entre Braga e Nova Iorque, de Manuela Gonzaga. Trata-se, para Galopim, de «duas oportunidades perdidas, uma (a biografia) enfermando de evidente falta de bom trabalho de edição e com liberdades estilísticas de gosto duvidoso, a outra pouco povoada de "extras" capazes de contextualizar aquela escrita no seu tempo». Dito de outro modo, o livro de Manuela Gonzaga «acaba medíocre», a antologia «denuncia uma falta de conhecimento do objecto em mãos». Ou seja, primeiro temos um Galopim genial escritor de biografias de músicos, promovendo-se à custa do jornal onde trabalha, depois um Galopim juiz implacável. Que moral é que tem Galopim para julgar os outros quando ele próprio se revela incapaz de ser juiz de si próprio?
Se tudo isto não é a suprema expressão de que o bacilo oportunista não é uma aberração ocasional, antes está sempre a acontecer, vou ali e já venho.
João Pedro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arquivo
julho 2004 agosto 2004 setembro 2004 outubro 2004 novembro 2004 dezembro 2004 janeiro 2005 fevereiro 2005 março 2005 abril 2005 maio 2005 setembro 2005 outubro 2005 novembro 2005 dezembro 2005 janeiro 2006 fevereiro 2006 março 2006 abril 2006 maio 2006 junho 2006 julho 2006 agosto 2006 setembro 2006 outubro 2006 novembro 2006 dezembro 2006 janeiro 2007 fevereiro 2007 março 2007
Outros Blogues
AbruptoAlice Geirinhas
Ãlvaro Cunhal (Biografia)
AspirinaB
Babugem
Blasfémia (A)
Bombyx-Mori
Casmurro
Os Canhões de Navarone
Diogo Freitas da Costa
Da Literatura
Espectro (O)
Espuma dos Dias (A)
Estado Civil
Fuga para a Vitória
Garedelest
Homem-a-Dias
Estudos Sobre o Comunismo
Glória Fácil...
Memória Inventada (A)
Meu Inferno Privado
Morel, A Invenção de
Não Sei Brincar
Origem das Espécies
Portugal dos Pequeninos
Periférica
Prazeres Minúsculos
Quarta República
Rui Tavares
Saudades de Antero
Vidro Duplo