segunda-feira, junho 12, 2006
Chico Buarque
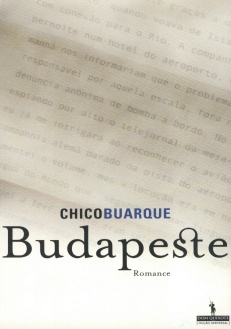
Não há ninguém mais invejoso do que eu. Sei que estas coisas não se podem dizer em voz alta, consigo até ouvir o ribombar dos trovões no céu por tão descarada violação do décimo mandamento: «não cobiçarás as coisas alheias». Deus me perdoe!, mas é isso mesmo. Então quando toca a Chico Buarque, eu fico comido de inveja. À noite tenho pesadelos com vociferações, em que bracejo, perneio, empurro, gesticulo à toa. Chico Buarque, acredito firmemente, é das pessoas que mais favores deve à natureza. Não lhe chegava ser bonitão (o que já não é pouco) e um músico refinadíssimo, quase sempre em maré alta de inspiração. Não, como se isso não fosse suficiente, Chico Buarque tinha também de ser escritor e que escritor! Chico Buarque deve ser daqueles que quer sempre ter razão. Eu! Eu! Eu! Por raiva, por pirraça, por pura embirração, já li Budapeste duas vezes. Como um criminoso, sublinhei-o, dobrei-o, olhei para ele de ângulos diferentes, tratei-o malissimamente, atirei-o contra a parede, persegui sem descanso cada frase, cada palavra, cada vírgula. Espremi-o até à última gota, dissequei-o linha por linha, li-o em circunstâncias desfavoráveis, em hora de feroz mau humor, amargurado, cansado, cheio de sono, aborrecido, no leito da depressão, com as orelhas murchas... pois quê! Budapeste é um livro que dá prazer ler. Desde que saiu (no Brasil em 2003, em Portugal no início de 2004, na D. Quixote) que ando para escrever sobre ele. A entrevista do Carlos Vaz Marques ao Chico Buarque na última Visão (que presumo a mesma da TSF, não ouvi, escapou-me) fez-me decidir a não adiar ainda estas pequenas notas da leitura de Budapeste.
Budapeste é a história de José Costa, um ghost writer, o chamado «negro», aquele que escreve na sombra textos assinados por outros: monografias, dissertações, provas de medicina, petições de advogados, cartas de amor, cartas de desespero, cartas de chantagem, ameaças de suicício, discursos de políticos, autobiografias, etecetera, etecetera. Trabalha na Cunha & Costa Agência Cultural, com vista para a praia de Copacabana, e tem duas paixões incorrigíveis: palavras e mulheres. No primeiro capítulo, Costa explica-nos como foi parar a Budapeste e o fascínio pelas línguas: «Tenho esse ouvido infantil que pega e larga as línguas com facilidade». E dá um exemplo: «campainha em turco é zil. (...) fiquei com zil na cabeça, é uma boa palavra, zil, muito melhor que campainha. Eu logo a esqueceria, como esquecera os haicais decorados no Japão, os provérbios árabes, o Otchi Tchiornie que cantava em russo, de cada país eu levo assim uma graça, um suvenir portátil.» Depois vamos percebendo que José Costa deixou o Brasil e se instalou em Budapeste, como Zsoze Kósta.
Como esquecer o passado e nascer de novo? Simples, esquecendo o idioma materno e vivendo num país com uma língua completamente diferente. Por casualidade, conhece a Hungria e apaixona-se (numa entrevista quando o livro foi publicado, Chico Buarque disse que escolheu o húngaro por causa da selecção nacional de futebol de 1954, aquela em que jogou Puskas; depois, com 17 anos, teve uma namorada húngara que lhe ensinou a pronunciar as palavras que dizem os namorados). Costa é assim um ser duplicado, dividido entre mulheres (além de Kriska e de Vanda, «moças entravam e saíam da minha vida») e entre idiomas: «para algum imigrante, o sotaque pode ser uma desforra, um modo de maltratar a língua que o constrange. Da língua que não estima, ele mastigará as palavras bastantes ao seu ofício e ao dia-a-dia, sempre as mesmas palavras, nem uma a mais. E mesmo essas, haverá de esquecer no fim da vida, para voltar ao vocabulário da infância. Assim como se esquece o nome de pessoas próximas, quando a memória começa a perder água, como uma piscina se esvazia aos poucos, como se esquece o dia de ontem e se retêm as lembranças mais profundas. Mas para quem adotou uma nova língua, como a uma mãe que se seleccionasse, para quem procurou e amou todas as suas palavras, a persistência de um sotaque era um castigo injusto». Há muito de Borges neste livro, nos jogos da escrita e da imitação, como nas cenas do jovem «negro» que o substitui na agência e começa a forjar a sua caligrafia: «a história por ele imaginada, de tão semelhante à minha, às vezes me parecia mais autêntica do que se eu próprio a tivesse escrito». Ou: «eu lia o livro ao mesmo tempo que o livro acontecia».
A linguagem viva e pitoresca, a flexibilidade e a leveza narrativa. Mas também o uso desenferrujante da língua. Os Portugueses têm tendência para menosprezar os Brasileiros com o argumento de que eles não têm respeito pela língua e que acanalham o vocabulário. A mim, se há coisa que me agrada na literatura brasileira é precisamente essa mistura entre uma enorme liberdade no tratamento da língua e o recurso a palavras que em Portugal já caíram em desuso. No primeiro caso, a utilização de barbarismos ou estrangeirismos, em particular anglicismos e galicismos, como «reprise», «maître», «blefando» ou «zapear». No segundo, palavras que em Portugal estão obsoletas mas que vêm referenciadas, por exemplo, no Cândido de Figueiredo desde pelo menos o século XIX, como «assecla» (adepto, correligionário ou sequaz), «cangote» (dominar, humilhar ou submeter), «encafifado» (envergonhado, acanhado, introvertido, tímido), «escafeder-se» (fugir apressadamente, safar-se) ou «muxoxo» (beijo, carícia ou qualquer manifestação de ternura).
Budapeste tem trechos de memorável, extraordinária literatura, em particular na descrição das mulheres e nas cenas de erotismo. Leia-se este fragmento, retirado do terceiro capítulo: «Kriska se despiu inesperadamente, e eu nunca tinha visto corpo tão branco em minha vida. (...) ela tirou pela cabeça o vestido tipo maria-mijona, não tinha nada por baixo, e fiquei desnorteado com tamanha brancura. Por um segundo imaginei que ela não fosse uma mulher para se tocar aqui ou ali, mas que me desafiasse a tocar de uma só vez a pele inteira. Até receei que naquele segundo ela dissesse: me possui, me faz o amor, me come, me fode, me estraçalha, como será que as húngaras dizem essas coisas? Mas ela ficou quieta, o olhar perdido, não sei se comovida pelo meu olhar passeando no seu corpo, ou pelo meu falar pausado no idioma dela, branca, bela, bela, branca, bela, branca. E eu também me comovia, sabendo que em breve conheceria suas intimidades e, com igual ou maior volúpia, o nome delas» (p. 42).
Chico Buarque vê-se que tem gosto em juntar palavras e em «ver os esqueletos da língua», em partir as palavras «ao meio como fruta que eu pudesse espiar por dentro». A contracapa da edição portuguesa reproduz um texto de José Saramago que termina assim: «Não creio enganar-me dizendo que algo novo aconteceu no Brasil com este livro». Eu não conheço bem a actual literatura brasileira para poder dizer o mesmo, mas que apetece concordar com Saramago lá isso apetece.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arquivo
julho 2004 agosto 2004 setembro 2004 outubro 2004 novembro 2004 dezembro 2004 janeiro 2005 fevereiro 2005 março 2005 abril 2005 maio 2005 setembro 2005 outubro 2005 novembro 2005 dezembro 2005 janeiro 2006 fevereiro 2006 março 2006 abril 2006 maio 2006 junho 2006 julho 2006 agosto 2006 setembro 2006 outubro 2006 novembro 2006 dezembro 2006 janeiro 2007 fevereiro 2007 março 2007
Outros Blogues
AbruptoAlice Geirinhas
Ãlvaro Cunhal (Biografia)
AspirinaB
Babugem
Blasfémia (A)
Bombyx-Mori
Casmurro
Os Canhões de Navarone
Diogo Freitas da Costa
Da Literatura
Espectro (O)
Espuma dos Dias (A)
Estado Civil
Fuga para a Vitória
Garedelest
Homem-a-Dias
Estudos Sobre o Comunismo
Glória Fácil...
Memória Inventada (A)
Meu Inferno Privado
Morel, A Invenção de
Não Sei Brincar
Origem das Espécies
Portugal dos Pequeninos
Periférica
Prazeres Minúsculos
Quarta República
Rui Tavares
Saudades de Antero
Vidro Duplo
